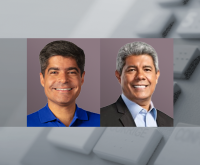Unidade móvel de combate ao racismo na Bahia (Kleidir Costa/Divulgação)
O ônibus está estacionado na Avenida Presidente Dutra, em Feira de Santana, a segunda cidade baiana mais populosa, em frente ao prédio da antiga Diretoria Regional de Educação e Cultura (Direc). Não é um ônibus comum, e sim um veículo adaptado e transformado em unidade móvel do Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela, mantido pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) do Estado da Bahia. Inaugurado em dezembro, o serviço itinerante tem como principal missão estender a batalha contra a discriminação racial para além da capital, onde fica sua sede, no bairro da Pituba. “Como temos dimensões muito extensas, pois são 417 municípios na Bahia, a proposta é dar conta desses territórios”, diz a titular da Sepromi, Fabya Reis.
A visita a Feira, como é chamado localmente o município distante pouco mais de 100 quilômetros de Salvador, é a primeira dessas viagens ao interior. Ocorre durante sua Micareta, o Carnaval fora de época que agitou a cidade em abril. Antes, a unidade móvel já tinha atuado em grandes eventos, todos em Salvador – Lavagem do Bonfim, Lavagem de Itapuã, Festa de Iemanjá, Carnaval e Fórum Social Mundial. “Fizemos os primeiros testes em lugares mais próximos para construir uma metodologia e traçar estratégias para que os deslocamentos comecem a se efetivar a partir de agora”, afirma a secretária.
O plantão da Micareta, com a unidade móvel sempre no mesmo endereço, bem perto de um dos portais que davam acesso à área delimitada para a folia, durou de 19 a 22 de abril. VEJA acompanhou o trabalho do último dia, um domingo. Não houve denúncias. Mas a viagem rendeu ações de informação, sensibilização e conscientização. Isso é o que faz as vítimas reagirem. “Muitas vezes as pessoas não conseguem sequer perceber a situação de racismo, dadas as violências cotidianas cometidas e já naturalizadas”, opina a secretária Fabya Reis. “Ou não se estimula a fazer a denúncia por não saber onde ir e o que fazer.”
É aí que o Centro Nelson Mandela entra. Desde 2013, acolheu e encaminhou 385 casos de racismo, intolerância religiosa e correlatos. A quem chega, oferece orientação jurídica para levar a denúncia adiante, apoio psicológico e assistência social. Atua vinculado a uma rede de combate ao racismo, que inclui Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e organizações da sociedade civil, entre outras instituições
A produtora e modelo Verônica Santana, 42 anos, tem recebido atendimento completo. Está ainda muito abalada com o que viveu em outubro do ano passado. Até chora enquanto conta o episódio que lhe trouxe constrangimento e trauma. “A gente vive em uma realidade repugnante, que precisamos tentar desconstruir o tempo todo”, afirma. “As pessoas ainda dizem que não existe racismo, mas é porque não sentiram na pele.” Verônica aguardava na rua a equipe que iria buscá-la para posar para fotos de uma marca. Como tinha chegado cedo para o horário agendado, entrou em um grande supermercado. Comprou um iogurte e decidiu consumi-lo logo, na praça de alimentação que fica dentro do estabelecimento. Quando recebeu uma mensagem avisando que a equipe ia atrasar, decidiu matar o tempo comprando alguns itens mais, para levar para casa depois. “Estava pagando no caixa quando fui abordada de forma agressiva por um segurança, que cobrava o pagamento do produto que foi degustado antes. Isso no meio de todo mundo.”
Indignada, ela não quis, em um primeiro momento, mostrar a nota fiscal de pouco mais de 2 reais. “Eu disse: ‘Posso ser negra, tatuada e ter cabelo duro que não significa que sou ladra’. Completei que, se me acusava, ele tinha de provar’.” O segurança retrucou que não precisava provar nada. O bate-boca tornou-se mais intenso. Resultou na intervenção de um gerente, a quem ela acabou mostrando a nota. “Só pude sair depois disso, e ele apenas pediu desculpas e ficou por isso”, conta. Dali, acompanhada de outro cliente para servir de testemunha, Verônica partiu para uma delegacia e registrou queixa. Chegou à sede do Centro de Referência Nelson Mandela pouco depois, por indicação de um amigo. Buscava apoio. Seu processo agora está na Justiça e ela ganhou acompanhamento semanal. “Tive danos psicológicos, fico lembrando dos olhares dirigidos a mim e não consigo mais trabalhar nem fazer nada direito.”
Do total de atendimentos do Centro de Referência Nelson Mandela, 46 foram registrados neste ano. Uma comparação impressiona: a quantidade referente a menos de quatro meses de 2018 equivale a cerca de dois terços do volume contabilizado em todo 2017, quando foram registrados 66 atendimentos. É claro que não é um sinal de que existe mais racismo hoje do que no ano passado. Sempre houve, e com a mesma ferocidade. O mais provável é que o crescimento registrado seja um indicador de que há cada vez mais pessoas com coragem para combater o mal e buscar seus direitos. Cada voz que se levanta incentiva outras reações. “Têm sido uma ajuda importante casos de grande repercussão, como o da youtuber Tia Má, que reforçam a importância de fazer denúncia, no sentido de buscar providências”, ressalta Fabya Reis.
A secretária se refere à influenciadora digital baiana Maíra Azevedo, que é também jornalista, comediante de stand up e colaboradora do programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo. Ela registrou queixa e recorreu a todos os mecanismos de defesa depois de ser chamada de “macaca” durante uma transmissão ao vivo em uma rede social, no fim de fevereiro. Em seguida foi ameaçada por mensagem pelo mesmo sujeito e recebeu mais xingamentos. Como não deixou barato, contou com ampla cobertura jornalística. O suspeito das agressões foi identificado, localizado e prestou depoimento no mês passado. A batalha agora continua.
Casos desse tipo, segundo a lei brasileira, podem ser enquadrados como injúria racial ou crime de racismo. “Injúria é quando se considera que o fato atingiu o indivíduo, de forma isolada, e é racismo se atingiu toda uma coletividade”, explica o advogado Jorge Torres Júnior, especialista em políticas públicas e gestão governamental do Centro de Referência Nelson Mandela, da Sepromi. A secretária avalia: “Quando se chama uma pessoa negra de ‘macaco’, a ofensa se estende a todas as outras pessoas negras.”
Racismo prevê de dois a cinco anos de prisão; injúria racial, de um a três anos. As vítimas têm, em geral, pouca informação sobre essas sutilezas. A verdade é que, mesmo com amparo da lei, perseguir os direitos não é fácil. Foi em uma conversa durante o expediente em uma transportadora de valores, onde era auxiliar de tesouraria, que Lucas Aquino, 35 anos, foi insultado por sua coordenadora. Sentiu-se atingido não apenas por ser negro, mas por ser de religião de matriz africana. Em um relato enviado à diretoria da empresa, ele descreveu em detalhes o ocorrido. O papo teria começado com um convite para o dia seguinte, já que era folga, e prosseguido com um debate sobre poluição das praias. No documento, Aquino conta que uma das causas do problema em pauta apresentadas pela coordenadora era que “um monte de pretos safados e descarados colocavam balaios de lixo no mar”. Nem mesmo pedir respeito ao “povo negro e ao povo de santo” fez a coordenadora se calar na ocasião. Mais ofensas vieram. Comunicar o fato à direção da transportadora depois também não surtiu efeito. A coordenadora saiu de férias em seguida, mas, voltou à carga assim que retornou. “Seguiu me hostilizando, e era sempre muito debochada.”
Restou denunciar. Na primeira ida à delegacia, Aquino não conseguiu registrar queixa. Em pesquisas na internet, descobriu o Centro de Referência Nelson Mandela. Ao contar com o suporte da instituição, as devidas providências puderam ser tomadas. Sem clima para permanecer no emprego, porém, ele viu-se obrigado a pedir demissão e saiu sem indenizações trabalhistas. “Não tive condições de continuar. Era muito sofrimento. Podia até perder o controle”, justifica. Já se passaram três anos e seu caso continua tramitando nos meios legais. Isso lhe traz revolta e frustração. Ainda assim, Aquino acredita que o enfrentamento é necessário e sempre a melhor opção. “O racismo tira oportunidade de trabalho e a vida da gente.”
Questionário
Uma das atuais ações práticas da unidade móvel é a aplicação de um questionário que contribui para provocar reflexão e levar mais gente à ação, mesmo que não imediatamente. Em Feira de Santana, concordaram em responder 407 homens e mulheres, dos quais 86% foram classificados como negros, após autodeclaração. Do total de abordados, 34,5% afirmaram já ter sido vítima de racismo. Nem todos denunciaram. Por volta de 40% preferiram deixar para lá. Até porque, o sentimento, muitas vezes, é o de que a inciativa não dará em nada. Quem atua no combate ao problema acredita que a criação de delegacias especializadas contribuiria para reverter esse pensamento.
Nas estatísticas dos questionários aplicados em Feira, o número de pessoas que dizem conhecer alguém que passou por esse tipo de experiência é ainda maior (47%) do que o contingente de quem admite ter protagonizado, ele mesmo, um episódio de racismo. Para coordenadora do Centro de Referência Nelson Mandela, Nairobi Aguiar, esse grupo, com certeza, engloba um lote de ocorrências camufladas. “Não é raro que a pessoa não queira admitir que foi vítima de racismo, até por se sentir inferiorizada, e conte algo que sofreu como sendo uma situação vivida por um amigo ou um parente”, justifica.
Na primeira parada fora de Salvador, a equipe encontrou outra reação que também não é considerada tão incomum – e que confirma quanto o combate pode ser complexo. Por mais de uma vez, ao responder ao questionário, houve quem dissesse, em um primeiro momento, nunca ter experimentado nada assim. No entanto, conversa vai, conversa vem e a pessoa acaba se dando conta de que estava enganada. Duas ou três perguntas depois de negar ter sofrido algum tipo de racismo, uma ambulante abordada comenta que já foi, isso sim, chamada de “macaca”. “Não dei importância, porque sei que não sou”, explica à emissária da unidade móvel, mudando sua resposta em seguida. A esperança é que, graças às abordagens, pessoas como a ambulante tenham uma atitude diferente na próxima vez em que sofrerem discriminação.
Naquele domingo em Feira de Santana, um episódio insólito é mais uma prova de que não há hora nem local para manifestações racistas. Um senhor chega pedindo para conhecer o ônibus. Entra e, ao se deparar com uma das pessoas da equipe escalada para o atendimento daquele dia vestindo roupas rituais do candomblé, começa a dirigir-lhe ofensas relacionadas à sua religião. Ao ser informado de que aquilo poderia virar caso de polícia, sai rapidamente. O ocorrido só alimenta a sensação de que o ônibus contra o racismo e a intolerância religiosa tem um longo caminho a percorrer. Se até ali algo assim pega todos de surpresa, imagine o que se pode esperar em rincões especialmente distantes, onde o acesso à informação e aos dispositivos para combater o racismo é ainda mais difícil?